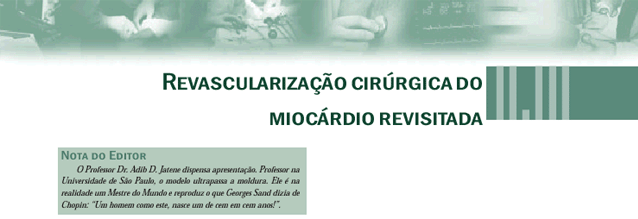
| A cirurgia de revascularização do miocárdio experimentou duas fases distintas, delimitadas pela introdução da cinecoronariografia por Mason Sones, em 1962 (1). |
Autor Adib D. Jatene |
Na primeira fase, iniciada em 1916, e como as lesões das artérias coronárias não podiam ser identificadas, os métodos cirúrgicos não abordavam a artéria comprometida. Eram métodos indiretos, seja para cortar a via nervosa da dor ou provocar vasodilatação, seja para induzir o desenvolvimento de circulação colateral através da formação de aderências entre o epicárdio e o pericárdio, usando irritantes físicos ou químicos. Tentativas de melhoria da circulação coronariana foram feitas pela colocação de tecidos vascularizados sobre o epicárdio escarificado. Merece destaque o implante de uma ou das duas artérias mamárias em túneis construídos na espessura do miocárdio por Vineberg(2).
A ineficácia destas operações, excluindo o implante de artéria mamária e a falta de método diagnóstico capaz de demonstrar alterações de circulação coronariana, levou a cirurgia ao descrédito como método terapêutico capaz de reverter a isquemia do miocárdio.
Foi o desenvolvimento da inecoronariografia, demonstrando não só a presença das obstruções das artérias, mas, também, o estado das porções distais, que tornou possível a abordagem das mesmas, diretamente, para restabelecer o fluxo sangüíneo normal, e, em conseqüência, a isquemia geradora dos sintomas, responsável pelo risco a que estavam expostos os pacientes.
Este segundo período já conta com experiência de 40 anos, quando centenas de milhares de pacientes foram operados em todo o mundo, utilizando técnicas que, agora, podiam ser avaliadas, e sua eficácia, relacionada diretamente ao resultado da revascularização do miocárdio.
Revisitar o que aconteceu nesses 40 anos pode ser feito didaticamente, considerando-se quatro períodos.
O primeiro período, que pode ser chamado de década das propostas eficazes, iniciou-se com a cinecoronariografia e inaugurou a abordagem da artéria obstruída. Inicialmente atuou-se sobre a própria área lesada por três abordagens distintas. A primeira foi realizando-se uma endarterectomia ou retirada da íntima espessada (3) . Na segunda técnica, o ateroma não era retirado. Fazia-se incisão sobre a área lesada, prolongando-se a mesma, proximal e distalmente, até atingir-se áreas preservadas da artéria. A sutura de remendode pericárdio ou veia garantia o restabelecimento do fluxo sangüíneo normal (4).
Na terceira abordagem, proposta em 1967 por Favarolo (5) , o cirurgião ressecava a porção lesada da artéria e restabelecia o fluxo através de um fragmento de veia safena suturada nos dois cotos da artéria coronária resultantes da ressecção da porção obstruída.
Esta última técnica por vezes não podia ser realizada devido ao comprometimento da porção proximal da artéria, o que levou Favarolo a abandonar a abordagem da área obstruída, fazendo o restabelecimento do fluxo sangüíneo através de ponte de veia safena suturada proximalmente na própria aorta e distalmente na artéria coronária após a obstrução (6).
Poucos centros se dedicaram, inicialmente, a realizá-la, acumulando progressivamente experiências cujos resultados estimularam sua difusão. Em nosso meio a revascularização, utilizando veia safena, iniciou-se em setembro de 1968 (7). Até junho de 1971 já havíamos operado 271 pacientes (9).
O segundo período pode ser chamado de década da análise e da expansão. Cardiologistas de renome no início posicionaram-se contra o procedimento, e a maioria dos serviços na Europa e nos Estados Unidos não realizava a operação. À medida que os resultados foram sendo apresentados, demonstrando controle dos sintomas pela eliminação da isquemia, a reação foi diminuindo e novos serviços passaram a realizar a técnica, com ampliação considerável do número de pacientes operados, com redução significativa do risco operatório e manutenção de resultados na evolução tardia. Introduziu-se, além da veia safena, a utilização da artéria mamária como conduto alternativo (9).
Ao entusiasmo inicial com a anastomose mamária coronariana seguiu-se período de retração, quando pesquisa conduzida por Flema (10) demonstrou que, para a mesma artéria, o fluxo fornecido pela veia safena era duas a três vezes maior que aquele fornecido pela artéria mamária. Admitiu-se que a mamária deveria ser reservada para pequenos leitos vasculares.
Em nosso serviço, que entre 1972 e 1974 tinha realizado esta operação em mais de 400 doentes, o procedimento foi praticamente eliminado.
Naquela década foram realizados vários estudos multicêntricos. Três deles (11-13) tiveram ampla divulgação, e sua interpretação deu margem, de um lado, à confirmação do valor do método e, por outro lado, a interpretações equivocadas, utilizando-se indevidamente os dados encontrados.
Isto ocorreu porque, pelo protocolo, só eram incluídos no estudo pacientes com angina leve ou moderada, com boa função ventricular, sendo excluídos pacientes com lesão de tronco, angina de graus III e IV, angina instável ou progressiva, bem como pacientes que tivessem apresentado episódios agudos nos últimos seis meses.
O que se buscava demonstrar, nesse grupo selecionado de pacientes de baixo risco, era a comparação dos resultados entre os tratados clinicamente e os submetidos à operação. Quando se buscava como indicador a mortalidade, a diferença, embora favorável à cirurgia, não era muito expressiva, mas quando se buscava a eliminação das manifestações de isquemia, como angina e teste de esforço negativo, o resultado era amplamente favorável ao grupo operado. Este achado levou à conclusão de que o paciente portador de angina estável, controlada por medicação, poderia ser mantido em tratamento clínico enquanto a medicação permitisse qualidade de vida aceitável, e só quando a angina se tornasse resistente, ou sofresse agravamento súbito, seria indicado o tratamento cirúrgico.
A extrapolação deste conceito a todo o universo de portadores de aterosclerose coronariana foi o equívoco que gerou muita discussão. Com o acúmulo da experiência ficou claro que não existia correspondência direta entre a gravidade dos sintomas e a gravidade da doença, principalmente do risco de morte. Passava-se a aceitar que, diante do diagnóstico de aterosclerose coronariana sintomática ou detectada por teste de esforço, o único exame capaz de demonstrar a extensão e a gravidade da doença era a cinecoronariografia, a partir da qual a opção terapêutica poderia ser decidida com todas as variações conhecidas.
Um grupo especial era o dos pacientes que se apresentavam na fase aguda da doença. A cinecoronariografia de urgência seguida de revascularização cirúrgica foi praticada em nosso meio, incluindo a desobstrução por cateterismo (14, 15).
Também foi objeto de discussão se a cinecoronariografia deveria ser feita antes da alta naqueles pacientes que apresentavam infarto do miocárdio com evolução favorável. No nosso meio, Piegas (16) advogava a importância dessa abordagem, argumentando com a não-relação direta entre sintoma e comprometimento anatômico e a conveniência de se conhecer a extensão e a distribuição das lesões nas artérias coronárias de maior utilidade para interpretação de eventos futuros.
De todas as contribuições do período resultou a aceitação universal da cinecoronariografia como o padrão-ouro para o diagnóstico e o estabelecimento do risco, seja de infarto ou de morte súbita, ao qual o paciente estava submetido por lesões de tronco de coronária esquerda, de porção proximal de artérias com extensas áreas de irrigação e lesões multiarteriais. Desta forma, as indicações para implante de pontes de safena aortocoronária ou anastomoses entre a artéria mamária e a artéria coronária poderiam ser feitas fora da fase aguda.
Os cirurgiões buscavam aprimorar a técnica usando fios de sutura cada vez mais delgados, e desenvolviam métodos para proteção do miocárdio durante a circulação extracorpórea, usada em todos os pacientes. Clampeamento intermitente da aorta foi confrontado com diferentes técnicas de cardioplegia, usando soluções salinas ou sangue com níveis elevados de potássio, para induzir a parada cardíaca. Estas soluções eram usadas, seja a 4ºC ou em temperatura normal, de forma anterógrada ou retrógrada, conforme a preferência dos cirurgiões.
Chegou-se ao claro entendimento de que ao cardiologista cabia o diagnóstico clínico e hemodinâmico, e ao cirurgião a revascularização do miocárdio.
A discussão centrava-se na oportunidade do tratamento cirúrgico, postergando-se sua indicação em pacientes com angina estável controlada por medicação e antecipando-se a operação quando lesões críticas em porções proximais poderiam causar eventos catastróficos.
O terceiro período, chamado de década do aperfeiçoamento e da evolução, caracterizou-se pela preferência do conduto arterial, representado principalmente pela artéria mamária esquerda. Os pacientes que tinham sido revascularizados com anastomose da artéria mamária para artérias coronárias com grande leito vascular na década anterior e que foram reestudados demonstraram que a quase interrupção do uso deste conduto não se justificava.
O estudo de Loop (17) , em 1982, demonstrou que a artéria mamária utilizada mantinha-se eficaz e, mais importante, que o índice de pontes pérvias, tardiamente, era significativamente maior que o das pontes de safena.
A artéria mamária interna esquerda passou a ser largamente utilizada. O uso de conduto arterial se expandiu para a mamária direita e para os outros condutos arteriais.
Carpentier (18) introduziu a artéria radial, que, inicialmente, foi questionada pela ocorrência de índice maior de obstrução, mas, posteriormente, com o refinamento da técnica de sua retirada e detalhes de sutura e o uso de vasodilatadores para prevenir espasmo, passou a ser regularmente utilizada.
Puig (19) , em nosso meio, introduziu o uso de artéria epigástrica, que, embora eficaz, não obteve a mesma aceitação dos condutos anteriores.
A artéria gastroepiplóica (20) igualmente vem sendo usada, seja como enxerto livre ou in situ, mas não ganhou ampla utilização, ficando reservada a casos especiais.
O enxerto venoso manteve sua posição, tomando-se cuidados especiais na sua retirada e no seu preparo, substituindo-se a solução salina empregada por sangue e controlando-se a pressão intravenosa durante o preparo.
É desta década a introdução da angioplastia, proposta por Grundzig (21) , utilizando cateter com balão insuflável ao nível da lesão, que esmagava a placa, restabelecendo o diâmetro normal da artéria e dispensando a necessidade de cirurgia.
A equipe cirúrgica ficava na espera para a eventualidade de complicação que exigisse intervenção imediata.
O relativo ceticismo inicial quanto a esta técnica, reforçado pela incidência de reoclusão em 40% dos casos nos primeiros seis meses, não causou maiores preocupações aos cirurgiões que consideravam a operação o procedimento de eleição, especialmente quando os condutos arteriais eram utilizados.
Entretanto o fato de o cardiologista que realizava o estudo hemodinâmico ser capaz de se tornar o operador usando a angioplastia causou turbulência no fim da década, em comparação com a calmaria da década anterior, onde havia separação nítida entre quem fazia o diagnóstico e quem fazia a intervenção, no caso, o cirurgião. Criou-se até o termo hemodinâmica intervencionista, ou seja, a que trata não só obstruções de artérias coronárias, mas de valvas cardíacas, coarctação da aorta e busca ocluir defeitos do septo atrial ou fechar o canal arterial persistente.
O quarto período, que se prolonga até os nossos dias, chamado por alguns de o da confusão, eu prefiro chamar de o das opções.
O aprimoramento da angioplastia, com o emprego dos stents (22), inicialmente não-revestidos e, recentemente, cobertos com substâncias capazes de inibir crescimento tecidual (23) na área onde fica colocado, bem como o tratamento de mais de uma artéria, representou um avanço inegável, acrescido do apelo da não-abertura do tórax. O procedimento está consagrado e vem sendo largamente utilizado em todo o mundo, suportado por uma estrutura industrial que produz e aprimora cateteres e stents.
Os cirurgiões, por sua vez, aprimoraram seus procedimentos, buscando simplificá-los e reduzir as incisões.
A operação sem o uso de circulação extracorpórea, no nosso meio divulgada por Buffolo (24) , com resultados posteriormente confirmados por vários cirurgiões brasileiros, e na Argentina por Benetti (25) , conseguiu ampla aceitação e vem sendo realizada de forma crescente no país e em todo o mundo, inclusive para casos com lesões multiarteriais (26).
Com base na anastomose mamário-coronariana, com o coração batendo sem circulação extracorpórea, introduziu-se a minitoracotomia (27) , utilizando-se, ou não, a videotoracoscopia para dissecção da artéria mamária. Das miniincisões laterais evoluiu-se para a médio-esternal, com redução da extensão da incisão da pele do tórax e realização de pontes múltiplas anastomosadas na artéria mamária, portanto sem tocar na aorta.
Também técnicas para implante de veia safena na aorta, sem utilizar qualquer clampeamento e com dispositivos que dispensam sutura, vêm sendo empregadas.
Mais recentemente, a introdução da robótica, em que braços mecânicos articulados são comandados pelo cirurgião, que olha a imagem do campo operatório na tela de televisão, é uma tentativa de se oferecer mais precisão sem necessidade de incisões maiores.
Inclusive pode-se colocar o paciente em circulação extracorpórea sem abrir o tórax e, com instruemetos introduzidos no tórax por pequenos orifícios, realizar anastomose da artéria mamária com ramos de artéria coronária.
Os procedimentos cirúrgicos, hoje, têm sua eficiência largamente comprovada, particularmente porque o uso de pelo menos uma artéria mamária é a regra. Os resultados tardios, em conseqüência, são cada vez melhores. Técnicas de redução da dor, com infiltração peridural alta, têm permitido um pós-operatório com ausência de dor nos primeiros três dias. Já existem serviços que, com esta técnica, conseguem operar com o doente acordado e sem intubação traqueal.
Por isso chamo esta década de das opções, em que o tipo e a localização das obstruções, a existência de eventuais complicações e, principalmente, a experiência de hemodinamicistas e cirurgiões irão determinar, em cada caso, se a melhor indicação é a intervenção por hemodinâmica ou por cirurgia.
Há casos de pacientes com repetição de várias intervenções hemodinâmicas que terminam por ser operados, como há casos operados que se beneficiam, posteriormente, da intervenção hemodinâmica.
O que necessitamos é de postura ética e de critérios para não submeter o paciente a um tipo de procedimento quando tudo fazia indicar que aquele não seria o mais adequado.
Acresça-se o fato de que o tratamento clínico medicamentoso também evoluiu e que, portanto, significa mais uma alternativa, não só para acompanhamento posterior de qualquer dos dois tipos de intervenção, mas como tratamento alternativo a ambos.
Diante de doença grave, e potencialmente fatal ou incapacitante, chegamos a um tempo onde existem três formas de tratamento eficazes e onde a opção por um deles estará baseada nas características de cada caso, lançando mão dos métodos de diagnóstico anatômico e funcional, que permitem aferir a viabilidade do músculo cardíaco a exigir revascularização capaz de eliminar as manifestações da doença e devolver o paciente à atividade normal.
É a cooperação entre clínico, hemodinamicista e cirurgião que oferecerá ao paciente o melhor tratamento no melhor momento.