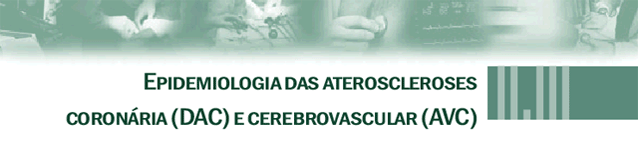
| A epidemiologia é o estudo das doenças e de seus determinantes na população. Pode-se dizer que através dela se avalia o estado de saúde de uma população e são investigadas as causas de seu adoecimento e seus níveis de mortalidade. O tratamento populacional correspondente (reabilitador-recuperador, preventivo e de promoção da saúde) está afeito ao campo da saúde pública, com o qual a medicina tem importante interface. Epidemiologia da aterosclerose |
Autores Aloyzio Cechella Achutti - Membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina; Professor Aposentado da UFRGS e da PUC/RS. Ana Marice Ladeia - Doutora em Medicina pelo Curso de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia (UFBA); Professora Adjunta do Departamento de Medicina Interna da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Armênio Costa Guimarães - Professor Titular de Cardiologia da UFBA; Presidente da Liga Baiana de Hipertensão e Aterosclerose; Membro da Academia de Medicina da Bahia. Maria Inês Reinert Azambuja - Doutora em Medicina pelo PPG de Clínica Médica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Professora Adjunta do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da UFRGS. |
Enquanto a medicina foca principalmente aqueles que buscam assistência, em geral, de forma espontânea, a saúde pública olha para o conjunto dos indivíduos: os doentes (que buscam, não buscam ou não têm acesso aos serviços médicos) e também aqueles (ainda) não-doentes, ou não identificados como tal.
O impacto das doenças cardiovasculares (DCV) é muito variado comparando-se populações e países diferentes. Estatísticas recentes disponíveis (Tabela 1) permitem cotejar a importância das DCV e, mais especificamente, da doença arterial coronariana (DAC) e da doença cerebrovascular (AVC) com a mortalidade por todas as causas no mundo, nas Américas, nos Estados Unidos da América do Norte (EUA) e no Brasil.
Este artigo pretende dimensionar a contribuição das doenças cardiovasculares (DCV) para o adoecimento e a mortalidade da população, buscando analisar seus determinantes e variações ao longo do tempo e do espaço, e dentre os seus distintos grupos sociodemográficos. Estão incluídos não somente os fatores de risco para os casos individuais (ex.: fumo, dieta inadequada), mas também suas diferentes histórias de vida (abrangendo gerações anteriores, até suas mães e avós) e o acesso à informação, aos serviços de saúde e ao tratamento efetivo correspondente à inserção social, em conjunto, determinando diferentes perfis de vulnerabilidade para as doenças e mortes em estudo.
Como expressão da aterosclerose, dois grandes grupos nosológicos comparecem com maior importância, tanto nos registros populacionais como na prática clínica: a doença arterial coronária (DAC) e a doença cerebrovascular (AVC). Esta última sigla, correspondente a acidente vascular cerebral, será adotada neste artigo para evitar confusão com a das doenças cardiovasculares. Ambas estão freqüentemente associadas, quase sempre conseqüentes a fatores de risco comuns e seguindo modelos fisiopatogênicos semelhantes.
Sua abordagem em separado tem finalidade didática e reflete categorias consagradas pela prática e pela expressão clínica mais chamativa na fase avançada da doença ou na vigência de novos eventos da história natural. No momento do registro, entretanto, a causa básica da doença ou do óbito pode ficar restrita a uma única entidade e até mesmo ficar encoberta por outro diagnóstico de maior relevância momentânea.
Mortalidade por doenças Cardiovasculares
A comparação dos números absolutos de óbitos sem levar em conta o tamanho e a estrutura etária das populações, bem como o impacto comparativo das demais causas de morte, pode induzir a erro de avaliação, especialmente quando se quer comparar o risco do adoecimento e da morte por aquela causa entre diferentes populações. Mas é indubitável que a DAC não tem, no Brasil, a mesma importância sobre, por exemplo, a demanda por atendimento médico que tem nos EUA. Mesmo se somando às mortes atribuídas à DAC todas as mortes codificadas como devidas à insuficiência cardíaca (IC) (29.531 óbitos em 1999), a proporção DAC + IC/todas as causas (10,8%) corresponde a menos da metade da mortalidade proporcional por DAC nos EUA (22%). Se todas as mortes classificadas como por causas mal definidas em maiores de 35 anos (16,3%) fossem lançadas na categoria doença arterial coronária, ainda assim não chegaríamos à proporção norte-americana do total de óbitos por esta causa. Já a proporção de óbitos atribuída à DCBV no Brasil (8,5%) está entre a registrada nos EUA (7%) e a estimativa mundial da OMS (9,6%).
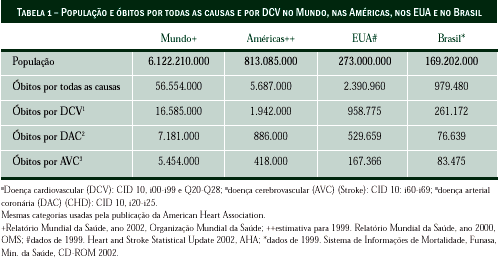
Como se pode ver na Tabela 2, há grande variação regional na mortalidade por estas causas nas distintas regiões do Brasil. Em parte, esta diferença deve estar associada à diferença na qualidade dos registros (e possivelmente no acesso e qualidade da assistência médica), como pode ser inferido pela variação na proporção de óbitos atribuídos a causas mal definidas entre as regiões. A Região Sul tem a menor proporção de óbitos por causas mal definidas (6,5%) e a maior ocorrência relativa de DAC (10,7% do total de óbitos em 1999). Já as Regiões Norte e Nordeste têm as maiores proporções de óbitos por causas mal definidas (22,6% e 29%, respectivamente) e as menores ocorrências relativas de DAC (4,1% e 4,8% dos óbitos em 1999, respectivamente).
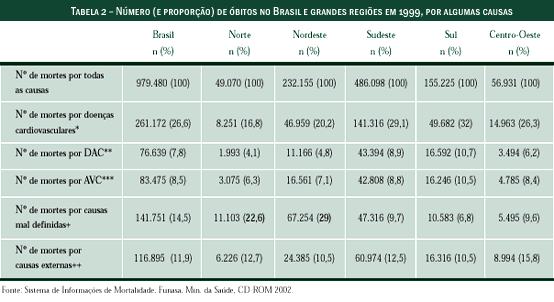
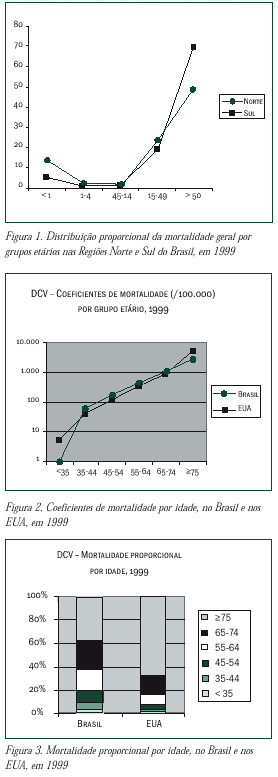 Além de diferenças nos registros, esta variação também reflete diferenças na média da expectativa de vida ao nascer entre estas regiões, como resultado de diferenças na exposição a situações de desgaste crônico da saúde ao longo da vida - desnutrição, infecções de repetição, trabalho infantil, gravidez precoce, multiparidade, más condições de trabalho, acesso inadequado ou insuficiente aos serviços de saúde, etc. A Figura 1 ilustra a diferença nos níveis de saúde das Regiões Norte e Sul, com base na distribuição proporcional da mortalidade por grupos etários (Curva de Nélson de Moraes). A curva da Região Norte, mais em forma de U, reflete um nível de saúde regular, com 50% dos óbitos ocorrendo até os 50 anos. A da Região Sul, mais em forma de J, expressa um melhor nível de saúde de sua população, com 70% dos óbitos ocorrendo após os 50 anos.
Além de diferenças nos registros, esta variação também reflete diferenças na média da expectativa de vida ao nascer entre estas regiões, como resultado de diferenças na exposição a situações de desgaste crônico da saúde ao longo da vida - desnutrição, infecções de repetição, trabalho infantil, gravidez precoce, multiparidade, más condições de trabalho, acesso inadequado ou insuficiente aos serviços de saúde, etc. A Figura 1 ilustra a diferença nos níveis de saúde das Regiões Norte e Sul, com base na distribuição proporcional da mortalidade por grupos etários (Curva de Nélson de Moraes). A curva da Região Norte, mais em forma de U, reflete um nível de saúde regular, com 50% dos óbitos ocorrendo até os 50 anos. A da Região Sul, mais em forma de J, expressa um melhor nível de saúde de sua população, com 70% dos óbitos ocorrendo após os 50 anos.Como a ocorrência de DCV tende a aumentar coma idade (Figura 2), para que o número total de mortes por DCV numa população seja alto é preciso que um número suficiente de pessoas sobrevivam à infância e à fase de adulto-jovem relativamente saudável, para que possam então morrer por esta causa. Como mostra a Figura 3, nos EUA, 67,6% das mortes atribuídas à DCV ocorreram após os 75 anos de idade. No Brasil, apenas 38,1% (entre 40,1% na Região Sul e 31,4% na Região Centro-Oeste). A maior proporção de mais jovens (< 65 anos) entre os mortos por DCV no Brasil (35,9%) do que nos EUA (15,2%) reflete este déficit comparativo de idosos no Brasil (Figura 4).
A distribuição das mortes por sexo também varia de uma população para outra, conforme se pode ver na Tabela 3, refletindo diferenças na estrutura etária, bem como exposições diferentes aos diversos fatores determinantes da morbidade.
Morbidade por doenças
Cardiovasculares
Como a mortalidade expressa apenas parcialmente o impacto das doenças, nos últimos anos tem-se utilizado cada vez mais uma outra unidade como indicadora: os anos ajustados de incapacidade e morte precoce perdidos cada ano, DALYs em inglês (disability adjusted lost years).
Para as mesmas doenças e estratos populacionais anteriormente considerados, podem se examinar as estimativas de seu impacto, na Tabela 4, onde se vê que as proporções correspondentes às doenças cardiovasculares ficam menores ao serem inseridas no grande contexto, e quando se ponderam também precocidade dos danos, morbidade e incapacidade.
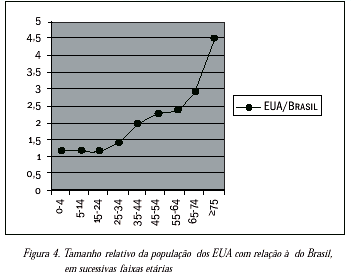 Quanto mais baixa a mortalidade infantil e de adultos, tanto maior a expectativa de vida e a proporção de velhos e menor, proporcionalmente, o peso global de todas as DCV, da DAC e da AVC.
Quanto mais baixa a mortalidade infantil e de adultos, tanto maior a expectativa de vida e a proporção de velhos e menor, proporcionalmente, o peso global de todas as DCV, da DAC e da AVC.
No ano 2000 ocorreram 12.426.137 internações hospitalares pelo SUS (no mínimo 75% do total das hospitalizações no Brasil) (PNAD, 1998). Descontadas as 2.913.953 autorizações de internação hospitalar (AIH) correspondentes a gravidez, parto e puerpério (primeira causa de internação), as demais 9.512.184 internações dividiram-se igualmente entre os sexos. Entre estas, as doenças cardiovasculares responderam por 12,2% das admissões ao hospital (segundo lugar), abaixo das doenças respiratórias rias (20,3%) e seguidas pelas doenças do aparelho digestivo (10,6%) e pelas correspondentes ao capítulo I da CID - algumas doenças infecciosas e parasitárias (9,3%).
Já nos EUA, em 1999, as doenças cardiovasculares foram o grupo diagnóstico mais comum entre todas as doenças registradas no momento da alta hospitalar (Heart and Stroke Statistical Update 2002, AHA).
Enquanto as internações por todas as DCV e aquelas por AVC foram, respectivamente, 5,5 e 5,8 vezes mais freqüentes nos EUA do que no Brasil, as por doença arterial coronária foram 15,2 vezes mais freqüentes. Nos EUA, esta causa respondeu a 35,7% das internações por DCV, contra apenas 12,8% no Brasil. A razão por sexo (H/M) na cardiopatia coronária foi semelhante lá e aqui (1,4 e 1,3). Já no caso dos AVC, o número de diagnósticos foi maior nos homens no Brasil, e nas mulheres nos EUA.
Insuficiência cardíaca e hipertensão arterial, ao contrário do que ocorre nos EUA, foram diagnósticos mais freqüentes que a doença arterial coronária como justificativa de internação no Brasil (Banco de Dados AIH, 2000). No caso da insuficiência cardíaca, é provável que parte dos casos tivesse como causa básica a cardiopatia coronária, sem que este registro tivesse sido feito. Já a maior prevalência de hospitalização por HAS parece estar de acordo com a mortalidade mais elevada por AVC no Brasil (Banco de Dados do Sistema de Informação de Mortalidade).
Tendências temporais
A mortalidade por DCV nos EUA (onde sua tendência temporal tem sido bem documentada) (MMWR 2001) aumentou ao longo do século XX, até 1968, quando um declínio ainda não adequadamente explicado teve início. A ascensão foi atribuída à emergência da doença arterial coronária como causa relevante de morte, retrospectivamente localizada ao redor de 1925 (Stallones). Como podemos ver na Figura 5, a mortalidade por doença cerebrovascular teria paradoxalmente declinado durante todo o período de observação. No entanto, estudos recentes comparando a evolução temporal na relação trombose x hemorragia em necropsias sugerem tendências temporais divergentes para estas duas formas de apresentação. A mortalidade secundária à trombose teria acompanhado a curva epidêmica da DAC, sendo a tendência predominante de declínio decorrente da queda na mortalidade por DCBV hemorrágica (Lawlor DA et al., 2002).
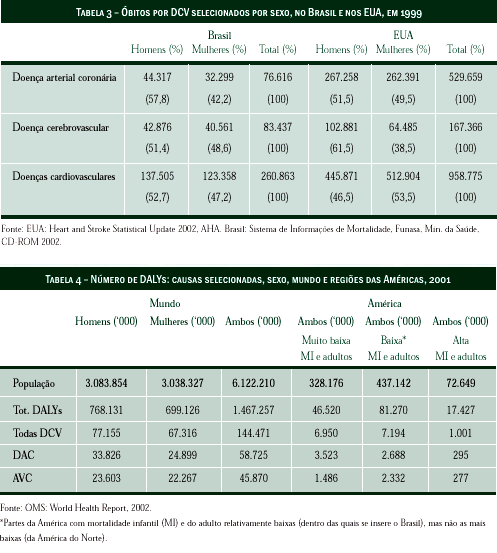
Tendências similares de ascensão e queda na mortalidade por doença coronária foram documentadas em vários países ocidentais, embora com alguma defasagem (Le Fanu). As taxas mais elevadas hoje ocorrem em países do leste europeu, aparentemente com taxas de mortalidade por DCV ainda ascendentes (Le Fanu).
No Brasil, a mortalidade por DCV manteve-se relativamente estável em valores elevados nos anos 1970 e foi declinante no período mais recente (Lotuffo et al. 1996; Mansur AP, 2002). Este declínio foi documentado tanto para a DAC como para o AVC.
A ascensão da mortalidade por DAC foi atribuída, no pós-guerra, à degeneração decorrente do envelhecimento populacional e de estilos de vida (sedentarismo, estresse/HAS) e padrões de consumo (fumo, dieta rica em gorduras), que se expandiam em uma população mais urbana e afluente. Nas décadas de 1960 e 1970, três fatores de risco (hoje denominados clássicos) eram considerados determinantes para a ocorrência da DAC: a hipercolesterolemia (secundária ao consumo de gorduras saturadas), o fumo e a HAS.
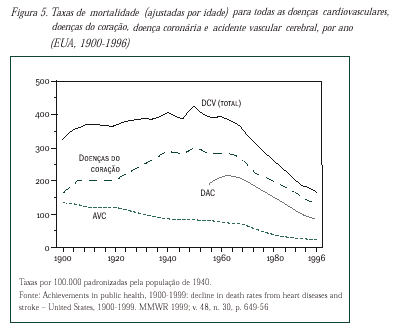 Após o início do inesperado declínio, abriu-se espaço para novas formulações teóricas e experimentais. Na década de 1980, com a descoberta das citocinas e de fatores de crescimento celular e os avanços na biologia celular, uma nova concepção de fisiopatogenia para a aterogênese começa a ganhar corpo: a degeneração não mais parecia adequada para explicar os achados anatomopatológicos. Em seu lugar vai-se introduzindo a inflamação (Ross R, 1993) como "a melhor síntese das aliterações identificadas na placa aterosclerótica" (Capron, 1993). A consolidação do paradigma inflamatório dá-se não só concomitantemente ao declínio na mortalidade por DAC, mas também em paralelo à aparente emergência de um novo perfil de risco associado ao desenvolvimento da doença terosclerótica. A hipercolesterolemia perde espaço, substituída por baixos níveis de HDL, LDL e TG elevados, hiperglicemia, obesidade central e resistência à insulina (Ziegler O, 1998). Aliados a estes novos fatores de risco, níveis de proteína C reativa associados a um estado de inflamação crônica têm-se mostrado capazes de predizer não apenas a ocorrência de eventos ligados à DCV (Libby et al., 2002) mas também a incidência de diabetes em mulheres (Han et al., 2002).
Após o início do inesperado declínio, abriu-se espaço para novas formulações teóricas e experimentais. Na década de 1980, com a descoberta das citocinas e de fatores de crescimento celular e os avanços na biologia celular, uma nova concepção de fisiopatogenia para a aterogênese começa a ganhar corpo: a degeneração não mais parecia adequada para explicar os achados anatomopatológicos. Em seu lugar vai-se introduzindo a inflamação (Ross R, 1993) como "a melhor síntese das aliterações identificadas na placa aterosclerótica" (Capron, 1993). A consolidação do paradigma inflamatório dá-se não só concomitantemente ao declínio na mortalidade por DAC, mas também em paralelo à aparente emergência de um novo perfil de risco associado ao desenvolvimento da doença terosclerótica. A hipercolesterolemia perde espaço, substituída por baixos níveis de HDL, LDL e TG elevados, hiperglicemia, obesidade central e resistência à insulina (Ziegler O, 1998). Aliados a estes novos fatores de risco, níveis de proteína C reativa associados a um estado de inflamação crônica têm-se mostrado capazes de predizer não apenas a ocorrência de eventos ligados à DCV (Libby et al., 2002) mas também a incidência de diabetes em mulheres (Han et al., 2002).Assim, num período de 50 anos (do pós-guerra até a virada do século) foi possível observar não somente uma epidemia de DCV mas também uma revolução na concepção fisiopatogênica da aterosclerose coronária, embora as concepções predominantes não tenham conseguido explicar adequadamente as variações temporais e geográficas na mortalidade ao longo do século (Azambuja e Duncan, 2002).
Fatores de risco
O conhecimento dos fatores de risco é de importância fundamental para melhorar o controle clínico e epidemiológico destes grupos de doenças. De forma semelhante à doença arterial coronária, os fatores de risco para o acidente vascular cerebral (AVC) podem ser divididos em modificáveis e não-modificáveis.
Fatores de risco não-modificáveis
Estes fatores de risco são importantes para identificar indivíduos com potencial de alto risco e que se beneficiarão de intervenções preventivas ou terapêuticas rigorosas sobre os fatores de risco modificáveis.
Idade
A idade é um importante fator de risco de DCV. O risco de AVC duplica após os 55 anos (AHA). Em Salvador, o AVC é 340 vezes mais incidente entre pessoas acima dos 65 anos em comparação ao grupo etário entre 15 e 24 anos (21).
Sexo
O AVC é mais prevalente e incidente em homens que em mulheres (9) , exceto entre 35 e 44 anos e acima dos 85 anos (9) . Contudo, a mortalidade relacionada ao AVC é maior em mulheres. Nos Estados Unidos, uma em cada seis mulheres morrerá por AVC, comparada com uma em cada 25 que morrerá de câncer de mama (9). O uso de contraceptivos orais e apenas uma gestação contribuem para o aumento do risco de AVC (9).
Raça e etnia
A incidência e a mortalidade por AVC é maior em negros. No estudo ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities), a incidência de AVC foi 38% maior em negros do que em brancos (23). A alta prevalência de hipertensão, de obesidade e de diabetes entre negros pode contribuir para estas elevadas taxas de incidência e mortalidade por AVC. Estudos epidemiológicos demonstraram que hispânicos, japoneses e chineses também apresentam alta incidência de AVC (9).
História familiar
Raça e etniaHistória materna ou paterna de AVC está relacionada com aumento do risco. Esse aumento pode refletir aspectos genéticos propriamente ditos, mas também aspectos ambientais ligados aos hábitos de vida familiar (AHA). Contudo, a incidência e prevalência de AVC é maior em gêmeos monozigóticos que nos dizigóticos, destacando a influência do fator genético (24).
Fatores de risco modificáveis
Hipertensão arterial (HA)
A relação entre vários fatores de risco e AVC está bem estabelecida. A HA é o fator de risco mais importante para AVC isquêmico ou hemorrágico. Existe uma relação direta e contínua entre o aumento da pressão arterial sistólica e/ou diastólica e o risco de AVC (9). Nos idosos, pressão arterial sistólica > 160mmHg, mesmo isolada, é importante fator de risco de AVC (9). No Brasil, a exemplo de outros países ocidentais, a HA é o maior fator de risco para AVC, presente em 85% dos pacientes (25). O controle da pressão arterial contribui para a prevenção do AVC (9) . Vários estudos demonstram que o tratamento com betabloqueador ou diurético é efetivo na prevenção do AVC (26) . No estudo Shep (The Systolic Hypertension in Elderly Program) houve uma redução de 36% na incidência de AVC com o uso de atenolol ou clortalidona (27).
Diabetes
Pacientes diabéticos, insulinodependentes ou não, apresentam maior usceptibilidade para aterosclerose. Estudos de caso-controle e estudos epidemiológicos prospectivos confirmam a importância do diabetes como fator de risco de AVC, com risco relativo variando entre 1,8 e 6 (9) . Para homens, no Honolulu Heart Program, o risco de AVCI foi duas vezes maior em diabéticos, independente de outros fatores associados (28) . A intolerância à glicose, per se, já confere aumento do risco de AVCI (29).
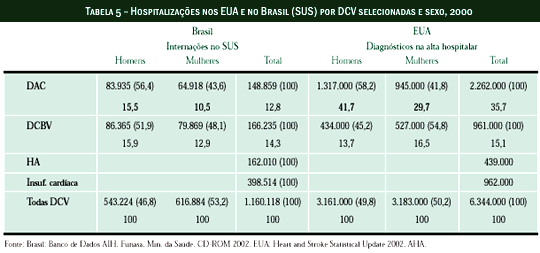
A HA é muito freqüente em diabéticos, com prevalência de 30% nos insulinodependentes e de 40%-60% nos não-insulinodependentes, o que torna difícil a dissociação da magnitude desses dois fatores de risco na morbimortalidade por AVC. No subgrupo de 3.577 diabéticos, no estudo Hope (Heart Outcome Prevention Evaluation), o risco de AVC diminuiu 33% no grupo em uso de ramipril, mesmo quando o decréscimo absoluto dos níveis pressóricos foi pequeno (30). Controle glicêmico inadequado e proteinúria também conferem maior risco de AVCI em diabéticos (31).
Dislipidemia
Estudos recentes sugerem que hipercolesterolemia e HDL-colesterol diminuído podem aumentar o risco de AVCI, embora a relação de risco não seja tão significativa como aquela com a doença coronariana (9). Por outro lado, os benefícios na prevenção do AVCI em pacientes coronarianos, em uso de estatinas, têm sido apoiados por várias metanálises (32, 33) . Resta, porém, esclarecer se o mecanismo dessa proteção está mais relacionado ao efeito hipolipemiante das estatinas ou aos seus efeitos benéficos sobre o endotélio, com maior estabilidade das placas ateroscleróticas, e às suas propriedades antitrombóticas e antiinflamatórias (Goldstein). Vale salientar que a redução do risco esteve associada com redução dos níveis lipídicos mesmo nos indivíduos com perfil lipídico considerado normal 34). Evidências patológicas desses benefícios têm sido demonstradas em estudos recentes, indicando relação inversa entre níveis lipídicos e grau de aterosclerose carotídea extracraniana (35).
Tabagismo
O tabagismo ativo têm sido considerado um fator de risco importante para AVCI. Os efeitos fisiopatológicos do tabaco afetam diretamente a função endotelial, são pró-trombóticos e diminuem os níveis de HDL-c. Metanálise de 22 estudos demonstrou o dobro de risco de AVCI nos fumantes quando comparados aos não-fumantes (36). Dados do Estudo de Framingham também confirmam um aumento de risco de AVCI de 1,8 nos fumantes, após ajustes para outros fatores de risco (37) . Também já foi demonstrado que tabagistas passivos, independente do sexo, apresentam aumento de 1,8 no risco de desenvolver AVCI (38).
Além desses quatro fatores de risco modificáveis, cuja relação com AVCI associado à doença aterosclerótica se encontra bem comprovada, alguns outros fatores devem ser considerados na análise de risco do paciente em geral, tais como obesidade, sedentarismo, abuso de álcool e cocaína, presença de fibrilação atrial e anemia falciforme, terapia de reposição hormonal da menopausa, uso de contraceptivos orais, estenose carotídea assintomática e cardiopatias embolizantes. Vale ressaltar que estenose carotídea é um fator de risco importante apenas para AVC ou ICT, como pode ser também um indicador de risco de doença coronariana concomitante (AHA). É evidente que a ação preventiva tem como objetivo a identificação e o controle de todos os fatores de risco.
Medindo o impacto dos fatores de risco
O impacto de alguns fatores de risco, estimado em DALYs (unidade que pretende medir os anos ajustados de vida perdidos por morte precoce e incapacidade), pode ser examinado na Tabela 6, que apresenta grandes grupos de risco. O primeiro corresponde à desnutrição materna e infantil. O segundo grande grupo também se relaciona com desvios nutricionais e sedentarismo, entre os quais podem ser reconhecidos diversos fatores comprometidos com o tema deste texto: pressão arterial, hipercolesterolemia, sobrepeso, falta de frutas e verduras na alimentação e sedentarismo. O terceiro - exposição a substâncias aditivas - contém ao menos dois fatores relacionados com o tema deste artigo: tabagismo e alcoolismo.
Programação fetal de doenças do adulto
Na busca da causalidade das doenças e das causas para poder intervir mais precocemente e com maior chance de sucesso, a medicina cada vez mais se antecipa ao limiar clínico, e busca as primeiras manifestações anatomopatológicas e biológicas capazes de predizer o risco futuro.
Programação fetal de doenças do adultoDiversos investigadores têm reunido evidências no sentido da programação fetal e do primeiro ano de vida para várias doenças do adulto, entre as quais a hipertensão arterial, a doença cerebrovascular e a doença arterial coronária. Inicialmente chamada hipótese de Barker, cada vez mais se reforça a consistência com mecanismos fisiopatogênicos capazes de explicar uma predisposição para a ocorrência mais precoce ou acelerada da aterosclerose e outras doenças em estratos populacionais submetidos a condições inadequadas de gestação e de desenvolvimento nas primeiras fases da vida.
Programação precoce (intra-uterina e infantil), metabólica, neuro-humoral, imunológica, e alterações metabólicas e estruturais têm sido demonstradas em recém-nascidos de baixo peso, alterações estas explicativas para distúrbios encontrados no decorrer da vida. Basicamente são modificações no fígado, acarretando distúrbios no metabolismo das lipoproteínas; alterações hormonais, do hormônio do crescimento e corticosteróides; alterações de nível neurológico central (celularidade do hipocampo e desempenho posterior frente a estresse); e alterações imunológicas - todas elas podendo levar ao desenvolvimento mais precoce e acelerado de aterosclerose.
Em população brasileira, numa coorte da cidade de Pelotas (RS) acompanhada desde o nascimento, Fernando Barros e César Victora demonstraram comportamento semelhante com relação à pressão arterial e desenvolvimento intra-uterino no primeiro ano de vida.
Aspectos fisiopatológicos da aterosclerose nas doenças cerebrovascular e coronária
A aterosclerose, causa mais comum de doença cerebrovascular (AVC) (70% ou mais dos acidentes vasculares cerebrais), tem sua patogênese inicial, semelhante à doença arterial coronária, numa lesão do endotélio vascular, caminho para um processo inflamatório crônico pela ação de citocinas, peróxidos ou outros estímulos associados à injúria hipóxica, com liberação de moléculas de adesão do tipo 1, intercelular (ICAM-1) e da célula vascular (VCAM-1), as quais estimulam receptores celulares que favorecem a aterogênese. A turbulência do fluxo sanguíneo também contribui para a resposta dos receptores celulares de moléculas de adesão, justificando, assim, a localização preferencial de placas ateroscleróticas nas bifurcações dos vasos (2, 3). Os locais mais comumente acometidos são a bifurcação da carótida interna, a origem da artéria cerebral média e qualquer uma das extremidades da artéria basilar.
O processo inflamatório agudo parece participar da fisiopatologia da doença cerebrovascular aterosclerótica (AVC). Citocinas, células T ativadas e macrófagos foram encontrados em amostras de carótidas, pós-endarterectomia (4). Estudos observacionais sugerem que a inflamação aguda participe do AVC isquêmico, haja vista a associação fortemente positiva entre níveis de proteína C reativa de alta sensibilidade (PCRas) e AVC (5, 6). Além disso, o uso de pravastatina por um período de cinco anos reduziu significativamente o risco de AVC, o que se associou à redução dos níveis de PCRas (7).
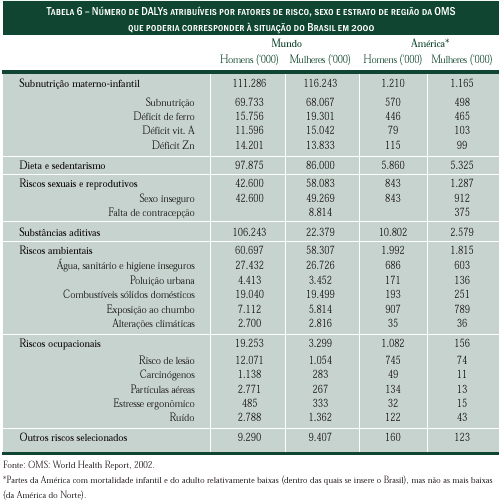
O AVC se manifesta por déficit neurológico focal, de origem isquêmica e caráter transitório (isquemia cerebral transitória, ICT) ou definitivo (acidente vascular cerebral isquêmico, AVCI). A sua patogênese resulta de trombose intravascular secundária à ruptura de placas ateroscleróticas instáveis. O infarto cerebral constitui a patologia básica do AVCI. Este pode ocorrer no local da trombose ou à distância, por embolismo de material trombótico de artérias cerebrais de maior calibre ou do sistema carótido-vertebral e aorta ascendente. A DCBV, quando associada à hipertensão, pode combinar à sua fisiopatologia acidentes trombóticos e hemorrágicos. A viabilidade funcional da área cerebral isquêmica depende, basicamente, da grandeza da circulação colateral e da duração, magnitude e rapidez de instalação da isquemia, o que se reflete em quadros clínicos de apresentação, intensidade e evolução variáveis.
Epidemiologia da doença Cerebrovascular
No Brasil, nos últimos 40 anos, a mortalidade por acidente vascular cerebral (AVC) foi maior de que por doença coronária, situação inversa à de outros países ocidentais, com exceção de Portugal, com coeficientes próximos aos nossos (18) . No Brasil, a mortalidade por AVC também apresenta variação regional. De 1979 a 1996, a mortalidade declinou no Sul e Sudeste, e aumentou no Centro-Oeste, exceto dos 30 aos 39 anos (19). O Nordeste apresentou o menor de risco de morte, exceto dos 40 aos 59 anos, quando aumentou (19). O Norte mostrou tendência à estabilidade. Vale ressaltar que a análise dessas tendências foi prejudicada pela grande proporção de causas mal definidas de morte.
Em estudo recente em 11 capitais observou-se a mesma tendência geral de redução da mortalidade por AVC, com algumas diferenças a depender de idade e sexo. Em Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Goiânia, houve declínio da mortalidade em todas as faixas etárias, para ambos os sexos, com Goiânia apresentando a maior redução de risco de morte, 72% e 73%, em homens e mulheres, entre 30 e 39 anos, respectivamente. Em Salvador, com a maior incidência de AVC (168/100.000 adultos) (21) , também foi observada tendência de redução na mortalidade, apesar do aumento em mulheres com 50 ou mais anos (20) . O oposto ocorreu em Brasília, onde o risco aumentou de 78% e 97% em homens e mulheres, respectivamente, dos 50 aos 59 anos (20).
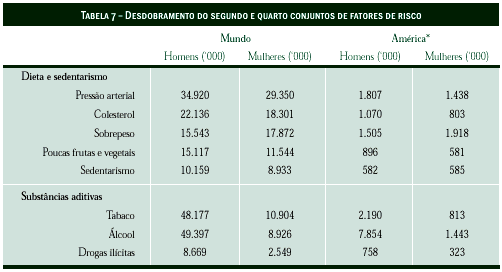
O AVC é a terceira causa de morte nos Estados Unidos, com 700 mil casos novos por ano e 4,4 milhões de sobreviventes (8) , representando importante problema econômico, com gasto de 51 bilhões de dólares no ano 1999 (9) . No Brasil, entre 1980 e 1995, um terço dos óbitos por doenças circulatórias decorreu de AVC, com 49.676 a 73.899 hospitalizações por ano entre 1984 e 1997 (10) . Os anos de vida produtiva perdidos por mortalidade entre 20 e 59 anos e o pagamento de pensões, em média 13 anos antes do esperado (12) , constituem outro importante aspecto socioeconômico do AVC no cenário nacional (11).
A tendência epidemiológica da mortalidade por AVC foi decrescente na maioria dos países desenvolvidos, mas a expectativa projetada entre os anos de 1990 e 2020 é ainda de crescimento, embora num percentual bem menor que o observado e esperado nos países em desenvolvimento, nos quais a tendência tem sido crescente. Na América Latina, o crescimento esperado é de 138% para as mulheres e de 145% para os homens, em comparação a 28% e 56%, respectivamente, para os países desenvolvidos (Yussuf ). Aspecto epidemiológico importante é a semelhança das tendências de mortalidade por infarto cerebral e cardiopatia isquêmica ao longo do século XX, sugerindo uma base etiopatogênica comum (Lawlor e Yussuf ).
Nos Estados Unidos, além das diferenças observadas para o sexo, com mortalidade masculina 25% maior que a feminina, e para raça, com mortalidade em negros 40% maior que em brancos, há também uma importante variação geográfica. Assim, observa-se que na região conhecida como stroke belt (cinturão do AVC), que inclui os estados de Carolina do Norte e do Sul, Alabama, Mississippi, Arkansas, Tenessee e Louisiana, onde a concentração de negros é grande, a mortalidade é 40% maior que no restante do país (Howard-Stroke, 2001).
É necessário discutir a importância clinicoepidemiológica dessas evidências, a fim de equacionar a influência das reduções na incidência e na letalidade sobre as reduções das taxas de mortalidade. Assim, no estudo Monica, dois terços da redução na mortalidade foram secundários à diminuição da incidência, por melhor controle dos fatores de risco, e um terço, por diminuição da letalidade (22). No Brasil, a avaliação e a confiabilidade desses dados sofrem grande influência da qualidade dos registros de ocorrência de casos e de óbitos, em algumas regiões, além das diferenças étnicas, socioeconômicas e culturais, sendo difícil uma avaliação real das nossas perspectivas.
Considerações finais
A epidemiologia das doenças arterial coronária e cerebrovascular torna evidente a importância da aterosclerose como causa de morbimortalidade cardiovascular em todo o mundo e também em nosso país. Diferenças em estratos populacionais distintos, inclusive em nosso meio, encontram explicação em variáveis sociodemográficas, exposição diferenciada a fatores de risco comuns, muitos deles controláveis. Populações com níveis de mpacto menores ou se encontram em fase precoce de transição, na qual se pode ainda interferir para reverter a tendência, ou já estão na fase descendente desejável, e servem como demonstração da efetividade da promoção da saúde, dentro de sua ampla concepção.
Além dos fatores de risco modificáveis clássicos, classificados junto ao segundo mais importante grupo de impacto sobre a saúde em todo o mundo, é preciso considerar também a programação fetal e infantil dos problemas de saúde do adulto, incluído no primeiro grupo, de maior impacto, o da desnutrição materno-infantil. Pelo seu distanciamento da fase clínica no tempo, pela aparente falta de associação com as características das categorias tradicionais fisiopatogênicas e de intervenção, e por sua magnitude em países como o nosso (com desigualdade social e miséria), merece uma atenção especial que não nos será enfatizada pela literatura originária de países com menor interesse pelo assunto.
Como contraponto, em quase todo o mundo é possível observar uma epidemia de sobrepeso. Em nosso país, em torno da metade de nossas crianças tem desvio ponderal para um extremo ou para outro em proporções aproximadas. Embora já se reconheça há mais tempo a importância dos excessos quantitativos e da inadequação qualitativa da alimentação, também este fator de risco não tem sido suficientemente abordado.
Um importante papel do cardiologista clínico é o do registro adequado do diagnóstico correto no atestado de óbito e em qualquer outro formulário na prática do atendimento individual, pois a informação é essencial para qualificar os estudos epidemiológicos e permitir uma avaliação adequada do estado de saúde de uma população, de suas tendências e da efetividade das intervenções.